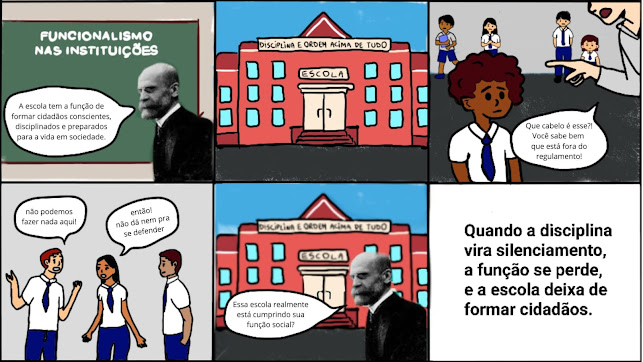O Positivismo no Brasil se desenvolveu de modo a construir raízes profundas, que se manifestam até hoje, inclusive na bandeira do país. O lema “Ordem e Progresso” foi criado em um momento de grande tensão política, no século XIX, quando o Império de D. Pedro II estava em queda e já podia se ver no horizonte a Proclamação da República.
A teoria positivista, desenvolvida pelo sociólogo Augusto Comte, “caiu como uma luva” para esse período, visto que defendia com muito afinco a ciência e a tecnologia, os dois principais campos do conhecimento que supostamente promoveriam o avanço social e humano. No entanto, analisando a realidade brasileira sob a ótica de Comte, nasce um questionamento: Como é possível falar sobre ordem em um país historicamente permeado por desigualdades e conflitos? Seria o conceito de ordem do Positivismo aplicado somente para uma parcela da população, a qual era beneficiada pelo sistema econômico vigente?
Para responder a essas questões, é necessário compreender que há uma razão pela qual a elite intelectual brasileira e europeia “abraçou” o Positivismo como corrente teórica principal e até mesmo religião. O principal interesse da aristocracia era manter seu poder, tanto político quanto econômico, o que seria possível somente através de uma ideologia que justificasse a permanência e o aprofundamento da divisão de classes sociais – em nome da “ordem” e do “progresso”.
Atualmente, a desigualdade social e econômica alcança novos patamares gerados pela globalização e pelo colapso ambiental do planeta. Conflitos de impacto mundial, como as guerras entre Rússia e Ucrânia e Israel e Palestina, ganham força, fazendo surgir o temor da chamada “3ª Guerra Mundial”. Esse contexto, com tantos problemas, morte e destruição, construiu a famosa narrativa do “fim do mundo”, cujo impacto atinge toda a população, alavancando a ansiedade e a falta de esperança coletivas. “O mundo está fora de ordem”, e por isso, todos estamos fadados a vidas sem perspectivas, sem sonhos e sem objetivos – esse é o pensamento disseminado por veículos midiáticos sensacionalistas e perfis nas redes sociais todos os dias.
No entanto, é preciso questionar: quem criou essa suposta “ordem”? O mundo alguma vez já esteve “ordenado”? A resposta é não. Em todos os momentos históricos, algum tipo de conflito foi registrado. Parafraseando o sociólogo europeu, Thomas Hobbes, o homem possui em si mesmo um estado de natureza agressiva e de ataque. Analisando os principais fatos do passado, pode-se atestar que todo conflito gerou alguma mudança e, portanto, é ele o fenômeno motor da sociedade, o responsável por alterar o status quo. O objetivo dessa constatação, entretanto, está longe de ser a defesa do conflito como algo bom, pelo contrário, o conflito armado e ideológico é o grande responsável pelas problemáticas locais, regionais e mundiais.
Tendo isso em mente, é possível constatar que em meio à toda destruição que o conflito promove, a sociedade está se movimentando e caminhando para mudanças. Mas quais mudanças serão essas? Somente as gerações que estão se levantando agora poderão determinar. Nenhum indivíduo carrega em si próprio, sozinho, a responsabilidade de mudar o mundo, porém cada um de nós pode causar um impacto, por mais mínimo que seja, no estado social. Dessa oportunidade, nasce um vislumbre de “futuro”, que, por mais opaco que seja, é o que auxilia a enfrentar o mar de desesperança em que se vive, não de modo utópico, mas realista, utilizando as ferramentas que existem hoje: coletivos, grupos, pesquisas, movimentos – todos esses instrumentos possuem sua importância e sua razão de existir. Portanto, é preciso que todos que compõem tais movimentos atribuam significados pertinentes e lutem pelo seu propósito.
Maria Vitória Silva - 1º Ano de Direito (Noturno)